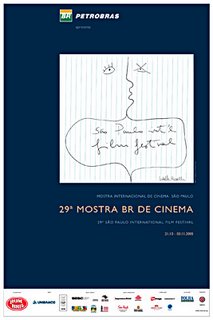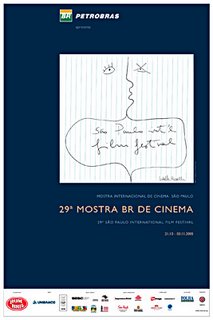
Mostra de Cinema de São Paulo
Acabou a Mostra de Cinema de São Paulo! E como sempre, gastei algumas horas de minha vida nas imensas filas (tanto para comprar ingresso, quanto para entrar nas salas), mas valeu a pena, pois assisti a pelo menos uns 15 ótimos filmes, que talvez nunca entrarão em cartaz na América Latina. Gostaria de ter mais dinheiro para poder assistir a todos os filmes que almejo (no caso seria uns 30), mas infelizmente nem rolou. Mas fazer o quê? É a vida. Pelo menos tive a oportunidade de assistir uma dúzia de bons filmes em 2 semanas, muito melhores que as centenas de enlatados norte-americanos que recebemos em nossos cinemas todos os anos. Vou citar brevemente os filmes (que conseguir relembrar) e fazer uma pequena crtítica de cada, pois esse momento não pode ser esquecido. Tenho que aproveitar enquanto está quente em minha mente cinéfila esses filmes e passar para o computador, pois daqui alguns meses não passarão de recordações breves. Oh memória cruel...
Al Otro Lado: Três histórias que mostram o outro lado da "busca pela terra prometida" das imigrações, o lado dos que ficam. Um garotinho cubano, um mexicano e uma árabe tentam, cada um à sua maneira, buscar seus pais fugitivos. São histórias tristes e comoventes, mostrando que nem sempre vale a pena largar sua vida, para ser escravo em outro país.
Uma Mulher contra Hitler: Mais um grande filme alemão, com a atriz principal de Edukators. Durante a 2ª GM, na Alemanha, um grupo tenta convercer os alemães, que Hitler não é tão bom assim. Eles são presos e condenados à morte. Mas é quando eles estão nas celas, nos tribunais e no meio dos nazistas que surgem as maiores discussões e debates acerca do nazismo na Alemanha. Diálogos muito bons e que nos fazem pensar muito na nossa realidade atual.
500 Almas: Documentário brasileiro que mostra uma região outrora habitada apenas por índios, que agora está irreconhecível. O diretor revive uma época, uma cultura e uma língua que está quase extinta. Esse documento registra uma cultura que foi quase exterminada, mas que ainda resiste bravamente. As poucas pessoas que se recordam - por meio de histórias contadas pelos parentes - como era a vida no local e que lembram algumas das palavras da língua, estão velhas e levarão consigo para o túmulo, muito da verdadeira história nacional.
Rosario Tijeras: Na periferia da Colômbia, conhecemos algumas vidas de miseráveis colombianos, que assim como nós brasileiros, vivem na injustiça e desigualdade, escolhendo o caminho do furto e do crime. Rosario é pobre, sem opções ou perspectivas e resolve roubar, traficar e matar, para conseguir sobreviver.
O Passageiro: Ao saber da notícia da morte de seu irmão, homem resolve preparar as coisas pro enterro. Sem avisar nada pra ninguém, no sigilo, ele chega na cidade e fica na pousada de uma mulher. E durante sua estada no local, se envolve com a dona, que era ex-namorada do irmão e seu filho. Quando ambos descobrem quem ele é na verdade, ficam indignados, pois confiaram nele e ele não comentou nada sobre a morte. Filme francês.
Notícias Lejanas: No México, uma família muito pobre sobrevive com o esforço e suor do pai. O menino mais velho é educado a servir os outros e não roubar, o que o deixa revoltado. Com um pouco mais de idade, foge de casa e vai tentar a vida na cidade grande. Após sofrer muito, morar na rua, ser maltratado e humilhado, acaba conhecendo uma mulher que o ajuda. Vai melhorando de vida, como trabalhador-escravo em uma empresa. Ao juntar um pouco de juntar dinheiro, vai atrás dos pais, para convence-los a vir morar na cidade. O pai o expulsa de casa e diz que prefere morar ali, mas acaba sendo morto pelo filho. Ele leva a mãe e o irmão menor pra cidade, mas acaba colocando-os em instituições.
Lemming: Tudo ia bem na vida de um casal de recém-casados, até o chefe dele ir jantar em sua casa. A mulher do chefe explode em ira contra o marido, o que acaba constragendo todos e fazendo o casal pensar: será que um dia ficaremos assim? As coisas só pioram depois disso. Aparece um lemming no encanamento da casa, o homem começa a ter alucinações, a mulher do chefe se mata na casa deles, a esposa incorpora o espírito da velha, começa a transar com o chefe, larga o marido e diz que só vai deixar o corpo de sua mulher, se ele matar o chefe. Af.
Dumplings: Uma chinesa de mais de 80 anos, que aparenta ter 20, descobriu a fonte da juventude: comer fetos humanos. Com essa indústria da beleza ganhando milhões, o filme é uma crítica a esse facismo do corpo. Uma rica atriz, resolve ganhar a beleza de volta para agradar o velho marido que enjoou dela, procurando a tal chinesa. O filme é nojento, mas mostra como as pessoas fazem de tudo para serem eternamente jovens.
Palindromes: Todd Solondz faz o que sabe melhor: chocar. Usando como história uma garota de 13 anos que queria ter um filho, mas é obrigada a abortar pelos pais, ele mostra inúmeras situações absurdas vividas pelas mulheres. São 9 atrizes diferentes que interpretam o mesmo papel. É como se todas as mulheres fossem uma, fossem condicionadas a serem uma só. O diretor, mostrando a saga da garotinha para ter um filho, fala sobre sexo, aborto, pedofilia, religião e cutuca como ninguém a tão abalada moral norte-americama.
A Batalha do Chile: O melhor filme da Mostra, sem dúvida, é divido em 3 partes. O documentário de 1975 é em preto-e-branco, e mostra todo o empenho das elites nacionais e do governo norte-americano, para derrubar o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. O documentário é forte, tem muito material, muitas imagens, muitas entrevistas e nos faz pensar constantemente no que ocorreu e no que virá. Saimos da sala da cinema indignados. É como se 1975 fosse hoje. Os EUA estão repetindo tudo de novo e com o mesmo discurso. Esse é o outro lado do 11 de setembro, que ninguém mostra.
Sonho Tcheco: Um ótimo filme tcheco e não é sempre que assistimos um filme tcheco. Como trabalho de fim de curso na faculdade, dois jovens resolvem criar um supermercado. No início do filme eles nos mostram o domínio que os supermercados exercem na vida das pessoas, nos países integrantes da ex-URSS. Eles resolvem então, para mostrar a alienação do povo, criar um supermercado, criar logomarca, produtos, propagandas, marketing, música, para ver se o povo vai ir para lá. O filme inteiro mostra o trabalho deles na criação de uma marca, e mostra até onde vão as pessoas que trabalham com publicidade, marketing, propaganda, com as mídias, para vender algo. É como que se fosse: vender a alma para o demônio. Os caras sabem muito bem como controlar e alienar o povo. Após a criação de tudo, no dia combinado para a abertura, o lugar enche de pessoas. E todos ficam indignados ao ver que foram enganados. Isso os faz pensar e analisar o quanto são dominados e controlados pela mídia. Esses estudantes ficam famosos em todo país.
Good Night and Good Luck
O Gosto das Meninas
Eviannaive
La Sagrada Familia
Rabbit On The Moon
Blood and Bones