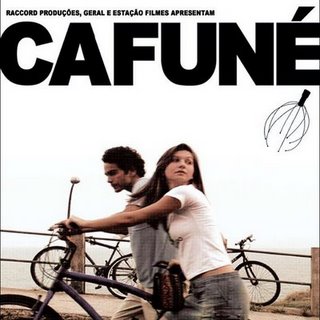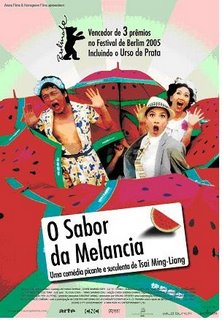Veludo Azul - David Lynch (1986)

Nota: 9
Imagine a seguinte visão. Um lindo céu azul, uma bela cerca branca e um agradável jardim com rosas vermelhas. É manhã numa pacífica cidade americana do Meio-Oeste. As pessoas são gentis e cumprimentam você com sorrisos no rosto. Um homem rega seu jardim na companhia de seu cãozinho. Tudo está perfeito no mundo. O homem se contorce de dor e cai ao chão agonizando. Seu imprestável cachorrinho se limita apenas a latir. Enquanto ele sofre, é possível observar de perto a grama do jardim. Escondida dentro dela, um grupo de insetos nojentos rasteja na escuridão em alguma atividade incompreensível e desagradável. Bem vindo ao mundo de David Lynch.
Esta é a cena de abertura de um de seus filmes mais conhecidos, o clássico Veludo Azul (1986). Possivelmente o melhor ponto de partida para entrar em contato com a filmografia do cineasta, pois estão presentes todas as suas características mais marcantes.
O diretor pode ser comparado a outros grandes cineasta contemporâneos, como Tim Burton, também um criador de mundos, Brian DePalma e Lars Von Trier, que de maneira semelhante trabalham com os limites do cinema e as sensações que ele provoca.
Um típico jovem americano, Jeffrey (Kyle MacLachlan), da pequena cidade de Lumberton, faz uma surpreendente descoberta, uma orelha humana amputada. Ao tentar descobrir o "dono" da orelha, percebe que seu mundo é maior e mais assustador do que pensava. Lumberton tem dois lados, sua aparente tranqüilidade e sua sombra assustadora. Tudo lembra um filme de atmosfera noir, com sua femme fatale Dorothy (Isabella Rossellini), a jovem inocente Sandy (Laura Dern) e o memorável vilão Frank Booth (Dennis Hopper).
Em princípio, estamos diante de outro representante do gênero policial, mas as aparências enganam. Com absoluto controle sobre imagens e sons, Lynch desfaz a ilusão de realidade. É impossível ter certeza da época em que se passa a trama, cenas de horror e violência contrastam com a beleza do lugar, criminosos cantam In Dreams enquanto torturam suas vítimas e mortos se recusam a cair no chão, permanecendo em pé. Veludo Azul lembra um sonho, alternando momentos terríveis e belos.
Com as freqüentes referências a sonhos e a própria atmosfera onírica de seus filmes, é difícil não pensar em Lynch como um surrealista. Seus filmes não são repletos de metáforas indecifráveis, como seus detratores costumam afirmar. Não há metáforas, só cinema. Sensações quase abstratas e não compreendidas pelo espectador, mas sentidas pelo subconsciente. Aceitar seu cinema envolve não o uso da razão, mas o da intuição.
O surrealismo possui características em comum, como a ruptura dos padrões tradicionais de espaço e tempo, ênfase em deformações físicas e mutilações, clima de mistério e humor negro satirizando instituições respeitáveis da sociedade como o Estado e a Família. Lumberton é a perfeita utopia americana, um lugar onde todos são felizes conformados com suas vidas. Mas a cortina de felicidade é rasgada, revelando um mundo de drogas, violência e perversão.
Ao final, Jeffrey resolve o mistério e derrota a ameaça de Frank Booth e seus comparsas. No entanto, o pássaro que surge para anunciar o triunfo da bondade é falso, mecânico. Não se ignora o horror, após presenciá-lo. Jeffrey e seus amigos preservam a inocência, o espectador jamais. É uma sutil crítica ao final feliz fácil de Hollywood, talvez a instituição respeitável mais atacada por Lynch.
Para atingir este estágio de perfeição estética e artística, o diretor teve um começo de carreira interessante. Inicialmente um estudante de pintura, logo passou a se interessar pela possibilidade de criar imagens em movimento. Nascia um cineasta. Seu primeiro longa, Eraserhead (1977) é famoso por suas imagens incomuns e pelo clima grotesco. O sucesso no circuito cult bastou para dirigir O Homem-Elefante (1980) e a polêmica adaptação de Duna (1984).
O primeiro filme narra a vida de John Merrick (John Hurt), deformado ao ponto de ter ganho o apelido de Homem-Elefante. Aberração de circo em 1884, Merrick é descoberto por um médico inglês e apresentado ao resto do mundo. Sua transição do mundo do circo para o lado respeitável da sociedade será traumático.
Além de excelentes atuações, também conta com uma fotografia em P&B fantástica, de inspiração expressionista, o que demonstra as influências do expressionismo no cinema de Lynch, influência que também pode ser vista em outros filmes, comprovando o misto de referências e influências do diretor.
O expressionismo seria a busca pelo lado escuro da alma humana, um retrato deformado de sensações como angústia e melancolia, com a intenção de mostrar que nem tudo no mundo é belo. Veludo Azul expressa o dilema entre o desejo por uma vida tranqüila e as nossas necessidades mais inconfessáveis. Esse dilema pode ser visto em praticamente todos os filmes do autor.
David Lynch também não segue as regras de caracterização típicas de outros filmes. Inicialmente, seus personagens são propositadamente superficiais, caricatos até. Por exemplo, Jeffrey é um rapaz americano comum e bem intencionado. Nada mais é dito sobre ele, seu passado, suas relações com a família, etc.
Esse "método" de caracterização além de auxiliar na aura de mistério (comum ao surrealismo e ao expressionismo), aumenta o impacto quando os personagens trocam de identidade. Situação surreal freqüente no cinema de Lynch, pois levanta questões sobre identidade, tempo e espaço. Exemplificando, essa metamorfose ocorre explicitamente em A Estrada Perdida e Cidade dos Sonhos e de maneira apenas sugerida em Veludo Azul. Na cama com Dorothy, o mocinho Jeffrey mostra o quão "bom menino" realmente é.
Coração Selvagem (1990), aprofundou seu estilo marcante. É um road-movie sobre o casal Sailor (Nicolas Cage) e Lula (Laura Dern), cujo amor é proibido pela família dela. Ambos partem pela estrada, mas com assassinos no encalço. Além de sua atmosfera absurda, também é lembrado por sua extrema violência (algumas cenas são revoltantes) e pelo humor cínico. Coração Selvagem antecede em muitos anos Assassinos Por Natureza, Tarantino e toda uma série de filmes violentos-e-engraçadinhos que surgiram nos anos 90.
Também é uma sátira as aventuras e clichês típicos de Hollywood. Não importa as ameaças, o casal está destinado a vencer seus inimigos e consumar seus amor. Bem adequado ao senso de humor do filme, poucas vezes um Deux Ex Machina foi tão artificial e levou a um final feliz ridículo, de tão exagerado.
Difícil traduzir a sensação que dá ver ao ver os filmes de Lynch. Aberta a qualquer interpretação, uma leitura possível é compreende-los como a representação metalingüística do próprio estilo cinematográfico de David Lynch. É a ilusão que se cria e se destrói diversas vezes. Sabemos ser apenas uma imagem, mas somos seduzidos mesmo assim. Nos mundos que Lynch constrói e desconstrói, certezas são dúvidas, ilusões são reais e anarquia é regra. Mas quem tem certeza do que é real ou não?
Lynch nos lembra constantemente que tudo é possível no cinema e desta maneira busca libertar o olho domesticado do espectador, como Buñuel mostrava o órgão ocular sendo cortado no surrealista Um Cão Andaluz.
Sua filmografia causa o mesmo espanto e perplexidade que escritores tão distintos entre si, mas igualmente notórios como James Joyce, William Burroughs, Kafka e Lewis Carroll. Diante de seus filmes, somos como Alice entrando na toca do Coelho e admirando o Gato com sorriso e o sorriso sem Gato. Cineasta das sensações, autor de imagens e sons inesquecíveis, David Lynch é o nosso motorista numa estrada perdida.