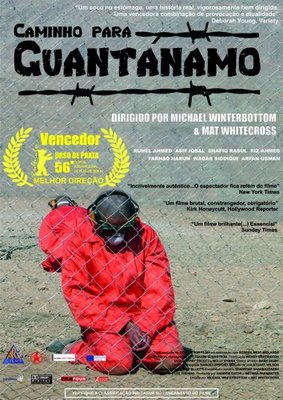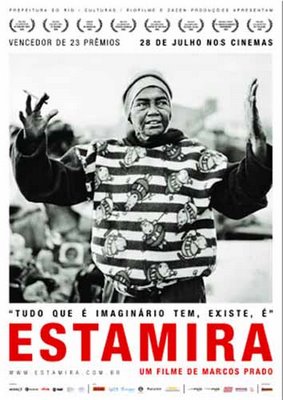O Ilusionista

Nota: 7
Era mais fácil a vida dos mágicos no século 19, ao menos em relação à crença do público em seus truques. Antes da criação do cinema, pertencia a eles a primazia de lidar com o potencial ilusório das imagens, explorando a idéia de que nem tudo é exatamente o que parece. Eisenheim (Edward Norton), o personagem central de O Ilusionista, faz valer essa vantagem para se tornar uma celebridade em Viena, na década de 1870.
Seu número mais polêmico traz ao palco imagens de pessoas que, supostamente, estão mortas. Atrações como essa chamam a atenção não só do público mais popular mas também do príncipe herdeiro (Rufus Sewell), de sua noiva (Jessica Biel) e do chefe de polícia da cidade (Paul Giamatti). A partir desse quarteto, constrói-se um pequeno mistério que se explica apenas no final.
Baseado em conto de Steven Millhauser, o diretor e roteirista Neil Burger (que fez antes o inédito Interview with the Assassin, sobre o assassinato de John Kennedy) se aproveita do pano de fundo histórico - a então recente formação do Império Austro-Húngaro - para dar um pouco de substância política a uma trama que, sabiamente, deixa de lado os truques de Eisenheim para se ocupar dos que a própria narrativa tem a oferecer.
Filme de época ambientado na Viena de 1900, O Ilusionista se destaca por uma atuação notável de Edward Norton no papel do mágico Eisenheim, que pode ou não possuir poderes sobrenaturais.
Baseado num conto do escritor ganhador do Prêmio Pulitzer Steven Millhauser e escrito e dirigido por Neil Burger, O Ilusionista é como uma paisagem de sonho que existe entre os estados do sono e da consciência, entre o velho mundo e o novo. Não é por acaso que a história acontece na Viena de Sigmund Freud.
No prólogo, vemos Eisenheim ainda menino (Aaron Johnson), filho de um carpinteiro, tendo um encontro casual com um mágico viajante e enxergando na magia a sua vocação. Como mágico novato e jovem, ele atrai a atenção da bela Sophie, herdeira de uma família aristocrata. O vínculo entre eles é uma daquelas coisas mágicas que parecem não ter explicação. Então, quando a família dela os separa à força, Eisenheim percorre o mundo aperfeiçoando-se em sua profissão.
Anos mais tarde, ele está de volta a Viena, onde é saudado como mágico famoso e comanda um palco grandioso.
Uma noite, uma bela mulher se oferece para fazer um truque com ele sobre o palco, e Eisenheim se emociona profundamente: é Sophie (Jessica Biel), agora adulta. Infelizmente, ela é amante do poderoso príncipe herdeiro Leopold (Rufus Sewell).
Em função disso, Eisenheim se desentende com as forças da lei, aplicadas pelo inspetor-chefe de polícia Uhl. No papel de Uhl, Paul Giamatti não chega a ser realmente sinistro, mas, com a ajuda de um chapéu e um sotaque, ele consegue dotar sua personalidade naturalmente simpática de um toque sombrio. Eisenheim infringe as leis do país e, possivelmente, também as da natureza, e a história passa a ser contada por meio do olhar às vezes incrédulo e enganoso do inspetor.
Sophie e Eisenheim consumam sua relação, e, num ataque de raiva e ciúmes, o príncipe mata Sophie - será que a mata de fato? Esse acaba sendo o mistério principal do filme, algo que vai testar se Eisenheim é realmente um ilusionista ou possuidor de um poder secreto. Os espectadores mais sagazes talvez decifrem o mistério muito antes do final da história, o que acabará por torná-lo menos interessante.
Em todo caso, tendo Ricky Jay como assessor em magia, os truques mostrados no filme -- uma laranjeira que floresce sobre o palco, uma espada que fica em pé sobre o piso, espíritos dos mortos que rondam o teatro - são apresentados de maneira autêntica, como teria sido feito na virada do século passado.
O diretor propositalmente usou poucos efeitos especiais e procura acompanhar cada truque do começo ao fim, sem cortes, para que as mágicas possam ser vistas como teriam sido vistas pela platéia da época.