Cafuné
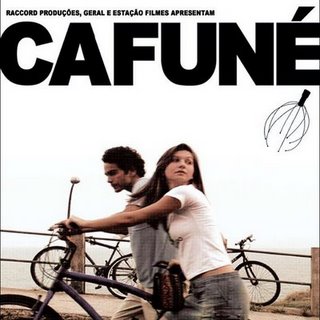
Nota: 5
Cafuné é o longa-metragem de estréia do carioca Bruno Vianna, muito premiado anteriormente pelos seus bem-sucedidos curtas. Captado em digital, nos chega agora com uma interessante proposta de distribuição: além de estrear nos cinemas em duas versões diferentes, o filme está, ao mesmo tempo, disponível para download na internet; seu site também disponibiliza um programa de edição para que o espectador re-edite o longa como melhor lhe convir. Talvez seja bom informar, então, que a versão a que se refere esta crítica é a menor, de aproximadamente 70 minutos de duração.
Os primeiros minutos de Cafuné esboçam uma situação de grande interesse e potencial cômico, dramático e reflexivo: assim como a zona sul, a mais nobre do Rio, está atravessada por algumas das maiores favelas da cidade, as vidas do casal protagonista, ela do Leblon, ele do Vidigal, atravessam-se, arrastando ambos numa aventura amorosa em que as posições geográficas e financeiras serão relativizadas e problematizadas.
O que primeiramente os conecta? Na praia, ele pede para fumar do baseado dela. A maconha: droga que, como fator social, não cessa de fazer o asfalto encontrar o morro, o playboy encontrar o traficante, e em níveis particulares fazer balançar as hierarquias, e não somente através da violência e da degradação. No filme, tal esboço inicial parece querer testemunhar os instantes em que as esferas sociais confluem e seus elementos se misturam, a zona sul deixando de ser uma área intocada de riqueza e educação, a favela de miséria e marginalidade; é a relação entre o casal protagonista o que promete gerar uma troca de afetos que faria o cenário social aparecer de modo mais complexo aos nossos olhos. Cafuné pretende mostrar como as coisas, nesse aspecto e ambiente, saem mesmo do controle ― para além da ‘simplicidade’ das graves primeiras páginas cariocas que noticiam a violência cotidiana e tendem a apontar o morro como essência única da criminalidade ― e como a aproximação (e não somente a distância que há) entre as vidas destes diferentes grupos e locais questiona a própria relevância do controle... ou melhor: de um certo controle ideal; de uma visão fixa e controlada do problema.
Outro problema, logo em seguida, é que o filme ― enquanto expressão cinematográfica ― não abdica do seu próprio controle em relação ao conteúdo. A câmera envolve os personagens numa redoma narrativa, bem fechada, que acaba remetendo quase sempre ao relativo domínio daqueles que a comandam, sem permitir que um lado-de-fora invada ou se anuncie. Algo parece reduzir o vasto espaço carioca que circundaria e ameaçaria as situações para o interior de pequenos ambientes controlados, um apartamento, um quarto, um carro, uma rua fechada. De modo que mesmo as locações, às vezes, pareçam estúdios. Até mesmo na seqüência do pedalinho da Lagoa, ambiente tão amplo, que fecha o filme, não conseguimos sentir que no envoltório algo esteja se passando, saindo do controle diegético; que pessoas estejam transitando, enfim, que a cidade ali questionada esteja viva. A banda sonora, que tanto poderia contribuir nessa invasão providencial criando um envoltório que ultrapassasse o plano íntimo da diegese, não ajuda muito. Tudo acaba parecendo uma fantasia mais ou menos estática que não nos faz esticar o material que nos é dado, de modo que não conseguimos embarcar totalmente no drama nem na reflexão a que o filme nos convida. Porque no fim, o que inicialmente parecia uma observação perspicaz ― com o encontro daquele casal e o caminho que eles passam a seguir ― entra na ordem convencional do convencimento: quando os resultados a que chegam todos os personagens confluem numa só moral. Então, em vez de operar um grande desvio que havia em potencial na sua relação, o interessante casal desemboca numa conclusão que harmoniza tudo. Tudo termina parecendo uma fantasia que quer ressoar, mas não consegue. Que pretende vibrar para além de si mesma, através dos questionamentos que sugere, mas que em si mesma, enquanto fantasia, não vibra.
Outro sinal disso é que os figurantes, também, quase sempre pareçam figurantes... Que não ganhem outro estatuto: eles apenas figuram, nunca desestabilizam. E com isso, aqui, de maneira alguma reclamamos por mais verossimilhança ou realismo. Não que os figurantes precisassem parecer mais naturais ou mais reais ao espectador para esconderem a fantasia. Mas que em Cafuné, o que está atrás, à frente ou aos lados dos personagens e de suas ações não consegue ter uma pulsação própria que dê mais vida ou ressonância ao que se dá em primeiro plano. Não é uma questão de aprofundamento, mas de perspectiva ou amplitude. Um filme pode ter aparência totalmente falsa, criada e superficial e ainda assim ser muito abstrato, cheio de vida, talvez precisamente através destas características. Também não é exatamente uma questão de tencionar o extracampo ou fazer com que coisas objetivamente invadam o campo; mas, diferente disso, como em muitos filmes o próprio campo tem algo de extra... Mesmo que numa narrativa tudo possa estar confinado num ambiente fechado, sem qualquer contato direto com o exterior, os elementos confinados podem sempre trazer consigo o descontrole que há necessariamente do lado de fora. E é esse descontrole que falta aos personagens e aos outros elementos de Cafuné, o que instaura também uma contradição ético-estética improdutiva que faz as coisas travarem, num filme que quer falar sobre o social enquanto ambiente vivo e complexo, porém através de personagens e situações que cada vez mais se deixam fixar em representações bem definidas ou mesmo unilaterais. É algo assim: no início, ele parece que vai mostrar; mas depois ele acaba falando sobre, ou seja: discursando; e assim, tudo o que ele antes mostrou, perde sua incerteza. Além disso, um fator técnico crucial faz com que este filme perca a vivacidade que poderia ter e nos apareça de tal maneira: muitas vezes, os atores e a câmera parecem incomodar-se mutuamente; algo parece não estar à vontade.
Nem seria necessário que a cidade ao redor aparecesse viva, de fato, ou que se fizessem externas improvisadas de maneira documental, por exemplo. Novamente, não é uma exigência de realismo. A cidade, ou melhor, o envoltório social que o filme questiona, poderia fazer sua entrada viva através dos próprios personagens, suas falas e ações, mesmo nos ambientes fechados que acima citamos. Mas para isso os enunciados precisariam ser mais flexíveis e incertos de si. Não é questão de plano fechado ou plano aberto; mas de como um plano fechado pode de alguma forma se abrir e se expandir ao infinito, ou ao contrário se enclausurar ainda mais. Plano centrípeto ou centrífugo, mas não somente em relação à composição fotográfica. Em meio a estas percepções, alguns momentos de Cafuné são para mim memoráveis, singulares, talvez precisamente por representarem o oposto dos problemas que aqui cito e ficarem um pouco perdidos em relação ao resto do filme. O primeiro deles é uma seqüência em que a personagem Joana, namorada do irmão de Débora, sai de carro na madrugada; a câmera a enquadra de frente, de fora do carro, sem deixar que apareça o que há na rua, aos lados ou atrás; mas o reflexo das luzes no pára-brisa, o som ambiente (o vento no microfone, o silêncio da noite, os carros, enfim, o perigo que sempre há do lado de fora) e a boa atuação de Ana Kutner, tensa no volante ao parar num sinal e ver uma movimentação na rua (que nós apenas ouvimos, sem conseguir identificar do que se trata) bastam para envolver e seduzir o espectador. É provavelmente, em vários aspectos, o momento mais forte do filme; muito mais forte do que a cena em que um personagem mata um outro com violentas pancadas na cabeça. E não porque uma cena sugere e a outra revela, não porque a sugestão supostamente seria mais interessante daquilo o que está explícito. Mas porque a cena do assassinato, enquanto passa, é definida por algo que não está ali e que mesmo assim a define, uma abstração moral que a impregna, cada pancada que o assassino dá na vítima sendo uma pancada do discurso do filme no espectador, valores...; como se o filme dissesse: “Vejam...”, e aí a moral entrasse. Na cena do carro, ao contrário, tudo está ali... o carro, a personagem, o vento, até mesmo os ruídos estranhos cujas causas não vemos estão ali, no plano tão fechado... e no entanto esse plano se abre, mais abstrato, sem qualquer fixidez e com uma contundência (tanto estética quanto reflexiva) muito mais efetiva. Muito mais irresistível.
Os personagens de Cafuné não são clichês; há mesmo algo de singular neles. Mas conforme o filme se desenvolve, entra em jogo uma moral que inevitavelmente toma tudo o que está sendo mostrado como representativo de um todo social; mesmo que através de uma situação particular. A moral da história? Que no asfalto existem pessoas violentas (o irmão de Débora) e que no morro existem pessoas pacíficas (Marquinhos, que em vários momentos é posto em suspeita ao espectador pelo próprio filme, para que reflitamos sobre nossa própria tendência preconceituosa. Mas como podemos refletir verdadeiramente sobre nossa suposta tendência preconceituosa se é o próprio filme, através de sua vontade de desfazer os clichês sociais e os preconceitos, que trabalha com esquemas narrativos que põem seu protagonista em suspeita? O próprio filme estimula uma visão preconceituosa, mesmo que para em seguida confrontá-la a si mesma; e se o espectador pensou que Marquinhos fosse roubar um carro, foi apenas através da montagem do próprio filme, que o sugeriu). Que existe felicidade na favela; e que existe tristeza no asfalto. De fato, tudo isso existe e está certo. Só não gostamos que, principalmente no fim, o filme tenha querido reduzir-se a um dizer. A este dizer.
Débora descobre que Marquinhos, que dizia morar em São Conrado, é na verdade morador da favela. Imaginamos que haverá conflito; que ela brigará com ele por ter mentido. Mas, ao contrário, ela aceita de primeira, e inclusive vai contra aqueles que o condenam por isso. É ótimo que seja assim; de outra forma o conflito do casal nos lembraria algo que já vimos milhões de vezes em outras histórias. Cafuné tem disso: ele escapa habilmente de alguns clichês, mas freqüentemente desemboca em outros. E o fato de Débora aceitar a favela em sua vida, e principalmente o fato dela se mudar para a favela mais tarde, quando tem um filho com Marquinhos, poderia ter sido explorado muito mais extensamente; mesmo que ela ainda aceitasse isso com naturalidade, o movimento dessa aceitação é grave o suficiente para abalar e desestruturar toda a sua vida interior e também o que está ao seu redor. O devir-favela de uma jovem do Leblon é algo que daria material talvez para um filme inteiro, e aqui, por mais que a vida de Débora mude, tudo o que se altera é apenas através da trama, dos novos caminhos que a personagem toma, mas não da própria personagem; altera-se apenas a visão geral, mas não a particular. Vê-se muito de longe que um corpo saiu do Leblon e foi para o Vidigal; mas não se faz uma aproximação maior para ver o que mudou nesse corpo e nem como a mudança desse corpo alterou outros corpos, outras relações. O devir-favela de Débora poderia ser, em vez (ou além) de um sinal de dignidade, de mera caracterização de uma personagem que busca sua felicidade independente da comunidade ou sociedade em que se encontra, uma onda, uma passagem irresistível que fizesse um grande furo na fronteira entre o morro e o asfalto e através desse furo fizesse passar aqueles mesmos questionamentos sociais que não foram tão bem-sucedidos de outro modo.
Recordo também e vejo brilho nos seguintes momentos de Cafuné: a longa cena em que uma personagem fotografa a si mesma diante de um computador, tirando fotos auto-eróticas de seus seios, e que me parece ter um efeito muito próximo ao da cena do carro acima citada; a seqüência em que Débora e Marquinhos combinam de ir ao motel, mas ao notarem a falta de um carro para tal, usam comicamente uma bicicleta; e por fim a cena em que Débora está deitada na cama com Marquinhos e seu filho e um tiroteio começa a acontecer lá fora; ela se encolhe na cama, corta-se para um plano mais aberto do ambiente, e o aspecto de segurança e aconchego que é próprio a este lar ― em vez de ser desfeito num sentimento de insegurança ― é intensificado pelos próprios tiros, como se quanto mais perigoso estivesse lá fora mais seguro ficasse ali dentro. Mesmo que não estejam brilhantes, os atores protagonistas também merecem de algum modo estar entre estes últimos comentários positivos. Principalmente Lúcio Andrey, que interpreta Marquinhos. Priscila Assum, satisfatória, talvez estivesse melhor se não fosse inevitável que sua atuação acompanhasse os problemas que têm sua personagem.
Cafuné tem o interessante impulso inicial de mostrar um certo caos produtivo que se instalaria através da confluência cotidiana entre zona sul e favela; mas acaba representando apenas um cosmo cinematográfico de pouca vibração. Os planos de passagem que aparecem com alguma freqüência entre uma seqüência e outra, paisagem de montanhas e neblina, também contribuem para retirar do filme aquele aspecto mais vívido de que falávamos, intensificando o controle e o fechamento em si mesmo do espaço de pensamento.

0 Comments:
Postar um comentário
<< Home