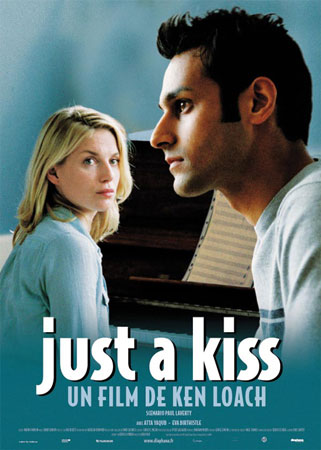Soy Cuba, o Mamute Siberiano

Nota: 7
O que importa em um documentário: a relevância do tema ou a maneira como é abordado? Há excelentes documentários que falam de banalidades, como O Fim e o Princípio. E tem aqueles que chamam a atenção pela grandiosidade de seus assuntos, uma corrida presidencial, a sociedade bélica dos EUA, as megacorporações, etc. É fato que muitos filmes do gênero são engolidos por seus objetos de estudo, tão interessantes que eclipsam todo o resto do discurso. Este é o caso de Soy Cuba - O Mamute Siberiano (2005).
O diretor Vicente Ferraz foi a Havana tentar reconstituir a fantástica história de Soy Cuba, de 1964, filme de propaganda da revolução cubana rodado pelo moscovita Mikhail Kalatozov (1903-1973). Soy Cuba tem alguns dos planos-seqüências mais espetaculares da história do cinema. E o iniciante Ferraz faz questão de justificar a escolha de seu objeto mostrando um desses planos logo no início.
A câmera do lendário diretor de fotografia Sergei Urusevsky (1908-1974) acompanha do alto do vão entre dois prédios um velório na rua, lá embaixo, como um formigueiro humano. O trilho da câmera entra por uma varanda, atravessa uma sala onde pessoas trabalham enrolando charutos, sai por outra janela, novamente na rua, seguindo do alto e rasando junto à procissão. Falando assim a operação de um travelling desses pode parecer banal, ainda mais diante dos processos computadorizados de hoje, mas contextualizada a coisa se torna fascinante.
Acontece que ninguém em Havana se lembra desse plano. Não se lembra nem da existência de Soy Cuba, filme em quatro episódios que mostra desde os turistas estadunidenses na época dos cassinos, prévia à revolução, até embates nas ruas de estudantes contra a polícia, no auge do descontentamento popular. Hoje, um dos atores principais tem dificuldade em lembrar dessas passagens célebres. Ferraz decide alterar seus objetivos. Quer, agora, mais do que reconstituir a história, entender porque o povo e até mesmo os técnicos que participaram das filmagens apagaram a superprodução cubano-soviética da memória.
É possível que o documentário se consumasse como um mero making-of do filme de 1964 se não fosse esse desvio de percurso. Ele exige que Ferraz passe a atentar não somente para o passado, mas para as condições sociopolíticas que levaram ao esquecimento. Isso porque a ilha da época era o paraíso e a paixão dos românticos engajados, em especial dos revolucionários da arte como Kalatozov e Urusevsky, mas hoje a pobreza e a irrelevância política demonstram que algo se perdeu no caminho. Não apenas de Soy Cuba, mas também da utopia comunista não sobrou nada.
Quer dizer, sobrou, em latas de rolos empoeiradas do ICAIC, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. É lá que o documentarista resgata outras tomadas formidáveis, como a cena do hotel, que sobe e desce pela área de lazer até submergir na piscina. Ferraz se "retira", sequer inclui uma narração em off, durante os minutos de reprodução do plano-sequência. Este é outro momento de reverência em que o objeto estudado engole seu observador, toma-lhe a narrativa.
Soy Cuba - O Mamute Siberiano (o subtítulo é uma referência a um crítico que chamou Kalatozov de "um mamute siberiano numa praia tropical") termina nesse misto de making-of e tratado social. Mas é bom que seja assim. O saldo fica equilibrado. Se chegasse a Havana determinado em esquadrinhar a História, se chegasse com uma pretensão desmedida de dono da verdade, o resultado poderia ser não só pedante como desastroso. Ferraz faz uma ótima reconstituição do período festivo dos anos 60 e ainda capta a Cuba de hoje sem palavras excessivas, só com o registro das ruas amarronzadas, dos prédios descascando, dos rostos das pessoas. É mais que suficiente, a mensagem fica subentendida.